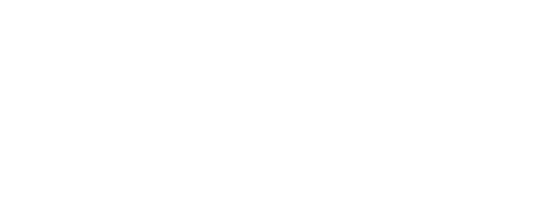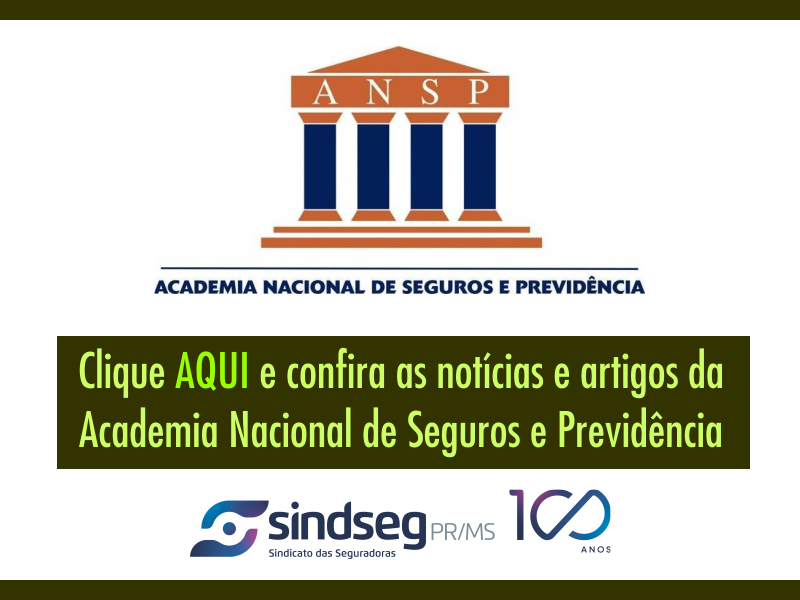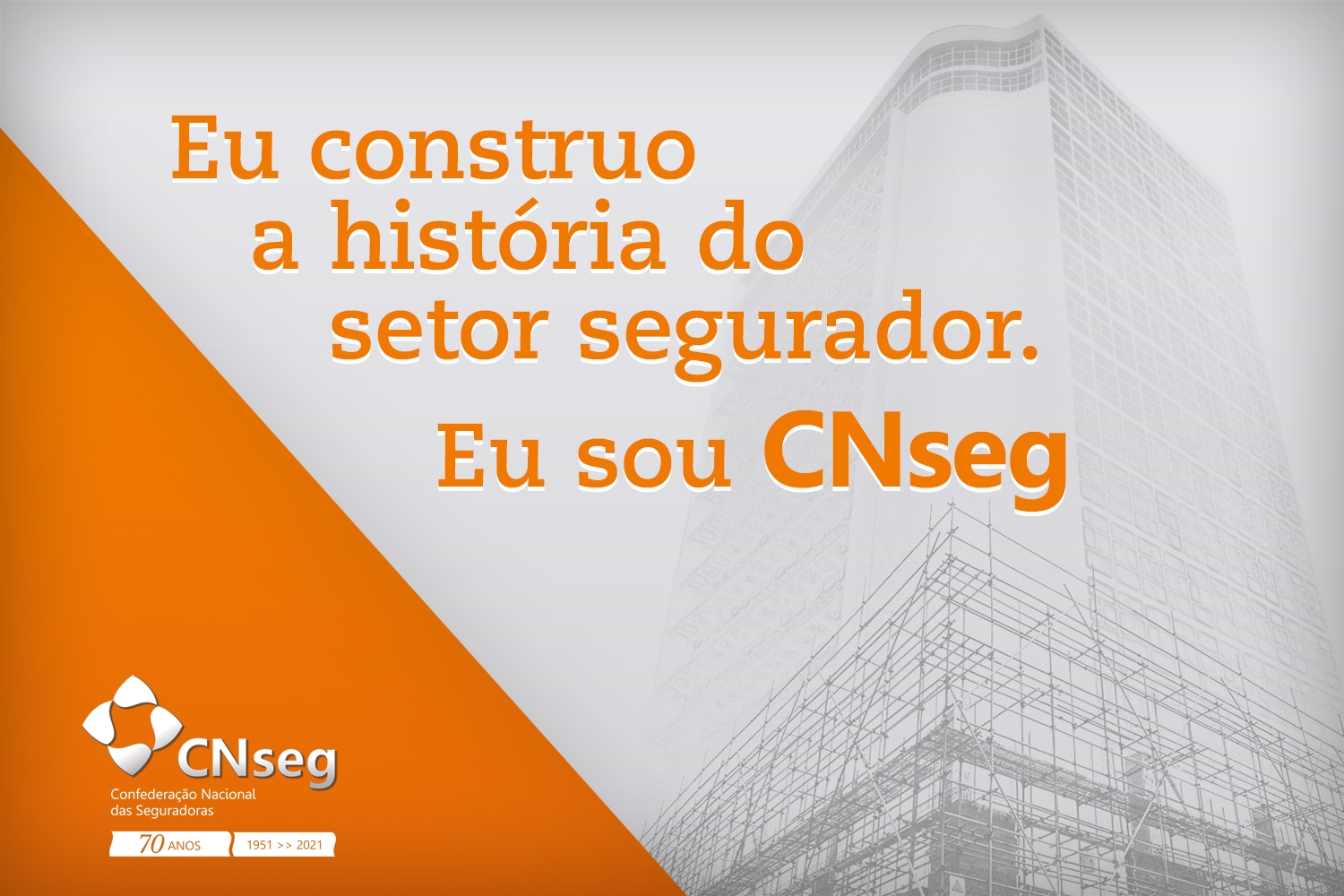Revista Cobertura – 5 de fevereiro de 2025 – Coluna: Opinião jurídica – Colunista: Lúcio Roca Bragança
Um diminuto artigo da nova Lei de Seguros, a entrar em vigor em dezembro/2025, tem provocado debates nos meios jurídicos:
Art. 9º O contrato cobre os riscos relativos à espécie de seguro contratada.
- 1º Os riscos e os interesses excluídos devem ser descritos de forma clara e inequívoca.
Por essa disposição, parte da doutrina tem entendido que é vedado à seguradora operar com cobertura de riscos nomeados, tornando obrigatória a cobertura all risks. Conforme o Dicionário de Seguros da ENS, o Seguro “Todos os Riscos” cobre “toda e qualquer perda, exceto aquelas especificamente excluídas. Tipo mais amplo de cobertura que se pode adquirir, porque se o risco não estiver claramente excluído, estará automaticamente coberto.” A essa modalidade, se contrapõe o seguro de riscos nomeados, em que a garantia securitária se limita àqueles expressamente assumidos na apólice.
É fácil compreender o posicionamento dos defensores da obrigatoriedade da cobertura all risks: a letra da lei praticamente repete o conceito desta modalidade. Mas seria esta a única interpretação possível?
Para iniciar esta resposta, valemo-nos das lições hermenêuticas de Carlos Maximiliano[1]:
“Qualquer um poderia ser condenado à forca, desde que o julgassem por um trecho isolado de discurso, ou escrito, da sua autoria: vetusto e certo é este conceito.
E ainda[2]:
Preocupa-se a Hermenêutica, sobretudo depois que entraram em função de exegese os dados da Sociologia, com o resultado provável de cada interpretação. Toma-o em alto apreço; orienta-se por ele; varia tendo-o em mira, quando o texto admite mais de um modo de o entender e aplicar. Quando possível, evita uma consequência incompatível com o bem geral; adapta o dispositivo às ideias vitoriosas entre o povo em cujo seio vigem as expressões de Direito sujeitas a exame.
Prefere-se o sentido conducente ao resultado mais razoável, que melhor corresponda às necessidades da prática e seja mais humano, benigno, suave.
É antes crer que o legislador haja querido exprimir o consequente e adequado à espécie do que o evidentemente injusto, descabido, inaplicável, sem efeito. Portanto, dentro da letra expressa, procura-se a intepretação que conduza à melhor consequência para a coletividade.
E assim é que o primeiro artigo da Lei, que estampa a própria definição do contrato, dispõe que o seguro garante o interesse legítimo “contra riscos predeterminados”, tal como já dispunha o Código Civil de 2002. Observando isoladamente este artigo, vê-se a mencionada predeterminação, que naturalmente cabe à seguradora efetuar, legitima o entendimento pela licitude dos riscos nomeados. Como conciliar os dois dispositivos então?
Toda a tradição do direito brasileiro, e mesmo do direito internacional, é de permitir a contratação sob a modalidade de riscos nomeados. Não pode, qualquer interpretação, alijar-se daquilo que constituem as práticas adotadas em todo o mundo (principalmente em um contrato globalizado como é o seguro), nem, tampouco, ignorar, de todo, aquilo que sempre foi adotado em território nacional.
A liberdade da seguradora em predeterminar os riscos nunca foi uma liberdade absoluta e as coberturas demasiado estritas, que subvertiam a legítima expectativa do segurado, jamais foram aceitas, nem pela doutrina, nem pela jurisprudência. Walter Polido, tratando do Código Civil, traz o exemplo da cláusula excludente do risco de carga e descarga, pontuando[3]: “Não resta dúvida que no caso específico de caminhão de carga, havendo a exclusão dos mencionados riscos no âmbito da apólice Automóveis, ela se mostra extensiva demais, pois que retira da cobertura do contrato de seguro importante parcela do risco, a qual é inerente ao objeto material do interesse segurado: o caminhão. Mesmo que a seguradora oferecesse de forma acessória a cobertura para carga e descarga e visando o recebimento de um prêmio adicional, não haveria coerência neste procedimento. Um caminhão de transporte de mercadorias não pode operar sem que sejam realizadas operações de carga e descarga.”
O que se quer, seja no Brasil, seja em qualquer parte, é um contrato de seguro que seja útil, como discorre a jurista portuguesa Ana Serra Calmeiro[4]:
O contrato de seguro tem de ser útil. Através dele pretende-se que seja assumida pela seguradora um risco que se refira a um evento de possível verificação; as cláusulas de delimitação e de exclusão não poderão dificultar de tal forma a assunção desse risco pela seguradora ao ponto de o mitigar, descaracterizando o contrato e desvirtuando-o do seu elemento essencial, de forma inesperada ao segurado.
Destas lições se extrai que, do ponto de vista técnico-jurídico, não é impositivo que o contrato de seguro seja necessariamente all risks; o que é necessário é que a cobertura não exclua risco “inerente ao objeto material do interesse segurado”, ou, em outras palavras, que garanta os riscos “relativos à espécie de seguro contratada” de acordo com o que está predeterminado na apólice e preservando um núcleo mínimo de utilidade do contrato. Trazendo esse entendimento para a exegese da nova lei, seria possível harmonizar o sentido dos dispositivos, preservar o espírito de proteção ao segurado e evitar uma ruptura com o que sempre foi praticado no Brasil e no mundo.
É claro que a estrutura dialética da nossa organização judiciária, que proporciona a evolução direito através de teses contrapostas, fará com que o tema seja objeto de debates por tempo indeterminado. De toda sorte, a lei nunca foi a primeira fonte de direito no Brasil: a tendência jurisprudencial predominante é de julgamento com base na razoabilidade, no bom-senso, na equidade, que são bons valores, ainda que dotados de alto grau de subjetividade. E é esta subjetividade, (in)justamente, que prejudica a previsibilidade e torna a insegurança jurídica típica de nossos pagos – algo que a nova lei, certamente, não fez diminuir.